Table of Contents
TogglePortugal deslumbrado com um ouriço
Por José Tolentino de Mendonça
Cardeal da Igreja Católica, arquivista e bibliotecário do Vaticano

Vasculhando entre os fragmentos de Arquíloco, o filósofo Isaiah Berlin encontrou um obscuro verso que parecia esculpido à medida para cutucar os seus leitores ingleses, em parte habituados, em parte ainda reticentes à combinação de conceitos com que ele operava na discussão da história das ideias. Arquíloco é provavelmente o poeta grego mais antigo de que nos chegou notícia e o mencionado verso dizia o seguinte: “Πολλ’ οἶδ’ ἀλώπηξ, ἀλλ’ ἐχῖνος ἕν μέγα” (“A raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma grande”). Berlin distanciava-se do sentido literal da proposição que contrapõe as avultadas astúcias da raposa à única, mas eficaz, estratégia do ouriço. Na verdade, estava mais interessado num trabalho tipológico, recorrendo às figuras da raposa e do ouriço para descrever a fisionomia de duas famílias de espíritos. A daqueles que perseguem múltiplos interesses e dessa forma conhecem muito, mesmo que através de um caminho que parece dispersivo, descontínuo ou contraditório — e que são as raposas. E a dos que partem apenas de um eixo único e central, de uma realidade ou obsessão que atravessa persistentemente tudo o que dizem e fazem — e que se configuram como ouriços. Os que se posicionam do lado da raposa movem-se na realidade a vários níveis, revêem-se numa ampla gama de experiências e objectos, convivem bem com a incompletude e o desencaixe. Do lado do ouriço estão os que se nutrem de uma visão interior unitária, de um fulcro em torno do qual o mundo e a existência sem cessar se organizam.

Sobre Miguel Esteves Cardoso, a maioria de nós, leitores, não hesitaria em descrevê-lo como uma irrequieta raposa. E, se necessidade houvesse, o volume aberto nas nossas mãos seria a prova incontestada de como esta “raposa sabe muitas coisas”. A Causa das Coisas é um almanaque e um ensaio de ontologia social; é um inventário de espécies e uma ambiciosa pesquisa etnográfica; é uma história (e não simplesmente uma história cultural) através dos objectos, um álbum enciclopédico, um showroom ambulante; é a autobiografia de uma época, um compêndio de imagens para memória futura, um folhetim sentimental, uma machine à voir, um diário repleto de anotações de passagem e um interminável trabalho de arquivação. Observar criticamente o presente e torná-lo visível é uma operação bem mais árdua do que se julga, porque o presente tem camadas e justaposições, é inúmero, fragmentário e ubíquo, é enigmático e difícil de ver. A omnívora raposa que se diria Miguel Esteves Cardoso ser, quando sagaz se aproxima na ponta dos pés, não surge disposta a facilitar a tarefa ao leitor. A propósito do Papel Oriental, ele recupera uma definição abissal de causa e de coisa: causa é “tudo o que determina a existência de uma coisa ou acontecimento” e coisa é “tudo o que existe ou pode existir real ou abstractamente”. E tudo, para esta eventual raposa, é mesmo tudo. Dom Afonso Henriques e o Totoloto, o mata-bicho nacional e Joyce, a neura e o sebastianismo, a farinha Predilecta e Lévi-Strauss, a maledicência e o mimo, o verbo “haver” e as couves, a Cartilha Escolar de Domingos Cerqueira e Strindberg, o chá e o papel selado, a lista telefónica e o luto.
MEC disfarça bem: a aparência de raposa esconde afinal um sólido e obstinado ouriço. O que nos seus textos tem o aspecto de errância compulsiva oculta tão só a irremovível predisposição monográfica
Contudo, Miguel Esteves Cardoso disfarça bem: a aparência de raposa esconde afinal um sólido e obstinado ouriço. E o que nos seus textos tem o aspecto de errância compulsiva oculta tão só a irremovível predisposição monográfica. Mas A Causa das Coisas aborda um tema apenas, insiste numa única preocupação, investiga somente a causa de uma coisa: Portugal. E constitui, como que a brincar, como se não o quisesse, um dos ensaios mais sérios, mais originais sobre o que somos.
É talvez útil, deste ponto de vista, avizinhar A Causa das Coisas (1986) do mais famoso livro de Eduardo Lourenço, O Labirinto da Saudade — Psicanálise Mítica do Destino Português, publicado no final da década anterior. O texto de Lourenço investe tudo na diagnose crítica do que ele chama “imagologia portuguesa”, isto é, o conjunto de representações e de auto-representações que moldam o modo como enfrentamos os processos históricos enquanto povo, ao longo dos séculos e em particular na época moderna. Mas esta viagem pelos traumas, desfocagens e hipérboles que “por uma razão ou por outra alcançaram uma espécie de estatuto mítico” serve um objectivo preciso. O autor explica-se assim: temos vivido como colectividade em negação e em fuga, prisioneiros de imagens irrealistas que de nós próprios forjámos; chegou a hora de desmitologizar esse sistema de evasão (na verdade, um labirinto onde irremediavelmente nos perdemos de nós próprios); chegou o momento de nos vermos tais quais somos, “condição indispensável para que algum dia possamos conviver connosco mesmos com um mínimo de naturalidade”. Mas essa empresa de reconciliação passa — e aqui temos de agradecer a Eduardo Lourenço a sua intransigente lucidez — por “uma conversão cultural de fundo susceptível de nos dotar de um olhar crítico sobre o que somos e fazemos”.
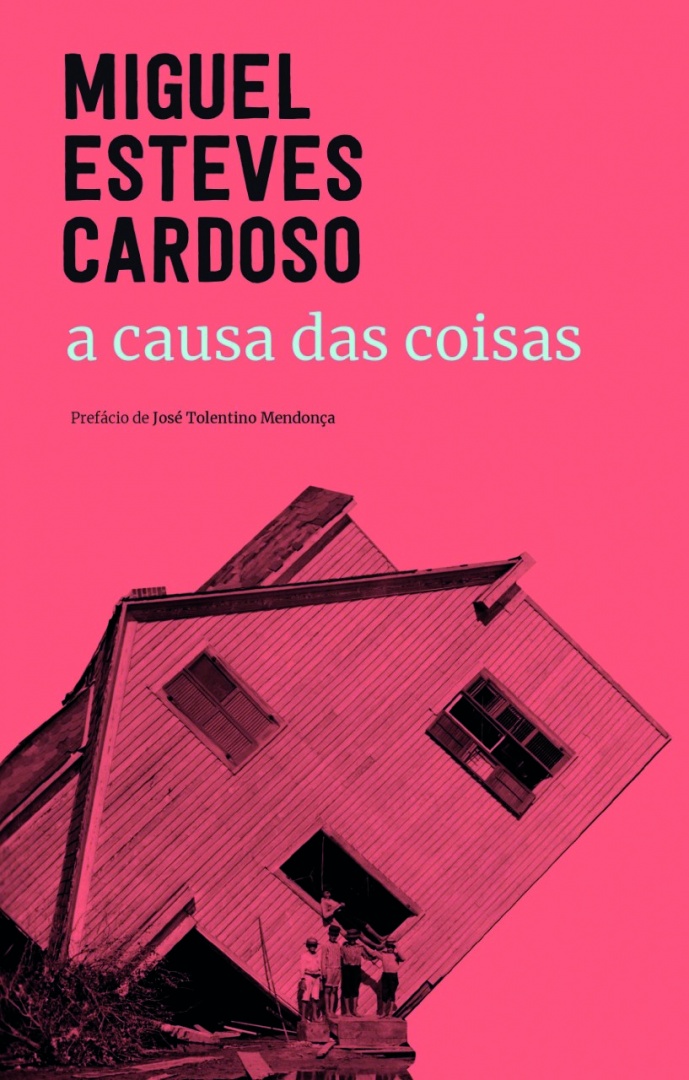
É verdade que, no final da década da nossa revolução democrática, abundavam os sinais de “uma vontade de renovação da imagerie habitual da realidade portuguesa”. E o próprio Lourenço cita alguns exemplos: o livro de José Cutileiro, Ricos e Pobres no Alentejo, as ficções Casas Pardas, de Maria Velho da Costa, Portuguex, de Armando da Silva Carvalho, ou Lusitânia, de Almeida Faria. Porém, a mutação cultural decisiva aconteceria a partir dos anos 80. A adesão de Portugal à Comunidade Europeia representou seguramente um marco dessa mudança.
Mas não só. Esse acontecimento ofereceu-nos também a oportunidade de um inédito reencontro connosco mesmos. Foi aí que Portugal deu por si deslumbrado com um ouriço. Um caso de amor correspondido que dura até hoje.
Este texto mantém a ortografia anterior ao presente acordo ortográfico.
Um homem feliz
Por Maria Filomena Mónica
Socióloga

As crónicas aqui reunidas são de tal forma extraordinárias que é difícil escolher a melhor. Li Os Meus Problemas de ponta a ponta, acabando por nomear dezoito. Reduzido este número a um dígito, notei que ainda estava longe da meta. Após várias releituras, consegui atribuir o prémio a A felicidade.
Os motivos que me levaram à escolha são variados, mas julgo que o factor decisivo foi o ter descoberto que existia alguém na minha pátria com a ousadia suficiente para se declarar feliz. Leiam-se as primeiras linhas: “Feliz é uma coisa que se é ou não é. Não se pode ‘estar’ feliz. Pode-se estar bem-disposto, pode-se estar alegre, pode-se estar satisfeito, mas feliz é a coisa que simplesmente não faz sentido estar.”
E a seguir: “Para se ser feliz é preciso ser-se um bocado parvo. Eu, por exemplo, sou. A felicidade é inversamente proporcional a uma série de coisas de boa fama, como a sabedoria, a verdade e o amor. Quando se sabe muito, não se pode ser muito feliz.” Concluía: “A felicidade, em Portugal, é considerada uma espécie de loucura. Porquê? Porque os portugueses, quando vêem uma pessoa feliz, julgam que ela está a gozar com eles. Mais precisamente: com a miséria deles. Não lhes passa pela cabeça que se possa ser feliz sem ser à custa de alguém.”

O autor fala muito dos portugueses, o que me fez lembrar o meu livro O Olhar do Outro — Estrangeiros em Portugal: do Século XVIII ao Século XX. Mas enquanto aqui o olhar é o de um visitante, o Miguel fala de “nós” como alguém que pertence a duas culturas. Filho de pai português e de mãe inglesa, tendo frequentado instituições inglesas desde a escola primária até à Universidade de Manchester, por onde se viria a doutorar, teve sempre morada em Portugal. Os portugueses de quem o Miguel nos fala são analisados com ternura, o que exige um tipo de prosa diferente da usada pelos intelectuais lusos obcecados com a questão da identidade nacional. Ele nunca teve de viver dentro de um labirinto da saudade, não foi obrigado a sentir medo de existir, nem se entregou à autoflagelação.
A certa altura, o Miguel conseguiu escapar ao destino de um professor catedrático para se instalar na menos prestigiada profissão de jornalista. Foi uma escolha acertada. Nos jornais é hoje clara a divisão entre a época pré-MEC e a pós-MEC. Por outro lado, o que escreve sobrevive ao tempo, o que deve estar ligado ao facto de nunca se ter interessado pela conjuntura política. O que o fascina é o quotidiano: leiam-se, por exemplo, as crónicas intituladas Os pais coitados e as putas das crianças, A fogueira do ciúme e O primeiro amor. O Miguel deve ter sido o primeiro português a usar nos seus escritos o pronome “eu”, coisa até então vista como um pecado narcísico.
A primeira vez que com ele me cruzei reparei logo que era diferente. E não apenas por causa da cara, dos óculos ou das canetas. Era diferente por ser a pessoa mais alegre que conhecera
A crónica intitulada O problema da raça, a última do livro, começa assim: “Sempre tive uma pequenina pena de não ter cara de português.” O que é verdade: a primeira vez que com ele me cruzei reparei logo que era diferente. E não apenas por causa da cara, dos óculos ou das canetas. Era diferente por ser a pessoa mais alegre que conhecera.
Não recordo a data exacta em que nos tornámos amigos — a propósito, veja-se a sua crónica Os amigos e os amigalhaços —, mas deve ter sido quando, em 1982, ele entrou para o Instituto de Ciências Sociais (ICS), onde eu trabalhava. Obviamente por inveja, alguns amigos começaram logo a dizer mal dele, o que só reforçou a nossa amizade. Entre 1982 e 1985, tendo a nosso lado o António Barreto e o Luís Salgado de Matos, dirigimos uma “Revista de Livros”, dentro do Diário de Notícias. Com poucos meios — as reuniões eram em minha casa —, o grupo conseguiu publicar algumas das melhores recensões críticas que jamais se escreveram neste país (estou obviamente a pôr de lado as minhas). Um dia, numa destas sessões, o Miguel apareceu com uma ideia: escrever um artigo sobre uma obra do Miguel Torga em norueguês. Perguntámos-lhe se falava norueguês.
A resposta foi negativa, o que não me impediu de o apoiar. Como é óbvio, a recensão não viu a luz do dia.
Um episódio que também gosto de recordar diz respeito à nossa passagem pela política. Tudo se passou em 1985 durante a campanha eleitoral para a Presidência da República. Ambos havíamos decidido votar no Mário Soares, um gesto tão inesperado que até chegou à chefia do Masp. Uma tarde, vimo-nos na biblioteca do ICS diante de uma câmara de filmar onde gravámos os nossos “depoimentos”. O Miguel explicou que o facto de ser monárquico não o impedia de votar no Soares e eu declarei que o fazia por saber que o candidato jamais interferiria nos meus disparates. Quando o António-Pedro Vasconcelos, que dirigia a parte audiovisual da campanha, viu aquela peça, mandou-a cortar, tendo apenas inserido os nossos rostos no leque de personalidades que, sem piar, apoiavam o candidato.

O Miguel tem certamente defeitos mas, durante muito tempo, não os descortinei. Até que, num Verão, estando eu a gozar o meu habitual retiro em Oxford, ele bateu à porta do meu quarto a pedir-me ajuda. Em vez de, ao abrigo de um esquema de troca de investigadores que eu montara, ter contactado o St. Antony’s College, solicitando-lhe uma habitação, optara por deixar correr. Desci com ele até à rua. Dentro do seu velho Volkswagen carocha estava uma namorada que não falava inglês e, no porta-bagagens, sacos contendo bacalhau seco. Furiosa, disse-lhe que fosse ao College ou a uma agência imobiliária a fim de tratar do problema, o que o obrigou a ir viver para Headington, um subúrbio triste de uma das mais bonitas cidades inglesas. Foi então que percebi ser ele um menino mimado.
Pouco depois, estávamos ambos de volta a Lisboa. Na década de 90, colaborei, com prazer, no jornal O Independente por ele dirigido e, mais tarde, na revista K. Depois de uma estada no hospital, o Miguel vive agora enclausurado na sua casa em Colares, enquanto eu, sofrendo de uma doença grave, passo os dias na minha cave. Chegou a fase do deserto, mas lembro que foi ele quem escreveu ser a amizade eterna.
(Este texto mantém a ortografia anterior ao presente acordo ortográfico)







